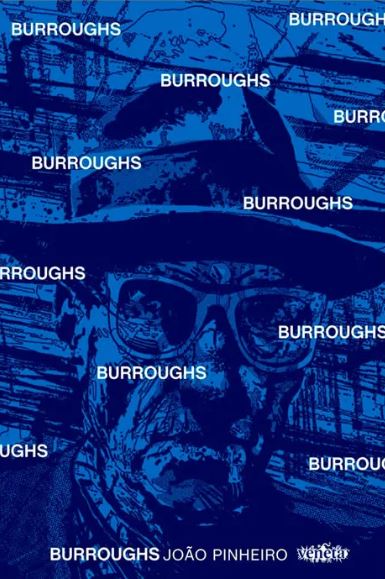“Lágrimas não valem nada a menos que sejam genuínas, lágrimas da alma e das entranhas, lágrimas que doem, dilaceram, machucam e rasgam.”
— William S. Burroughs, Last Words
Luca Guadagnino, na sua juventude palermitana, topou com o livro Queer (1985), de William S. Burroughs, e viu ali um espelho que refletia suas próprias inquietações e desejos. A obra, escrita num tempo em que a homossexualidade era ainda mais marginalizada, deu ao adolescente uma identificação profunda. "Acho que o livro me mudou para sempre. Para ser fiel àquele jovem que fui um dia, tive que colocá-lo na tela", confessou ele no Festival de Veneza, onde finalmente apresentou a tradução cinematográfica do romance amado, realizando o sonho daquele rapaz de 17 anos. Esse relato em primeira pessoa mostra a intensidade com que o diretor se jogou nesse projeto.
Quando o assunto é adaptação para o cinema, a santíssima trindade Beat — Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William S. Burroughs — sofreu inúmeros golpes ao longo dos anos. Os filmes feitos a partir da obra desses três são um fiasco em sua maioria. Basta lembrar do terrível Beat (2000) e do decepcionante Na Estrada (2012), de Walter Salles, que, mesmo com um elenco estelar e uma fotografia deslumbrante, falhou em capturar a energia transgressora e a urgência existencial do romance de Kerouac. Apesar das boas intenções, colaborações criativas promissoras e lampejos de inspiração, as adaptações da literatura Beat para o cinema tendem a azedar. Isso talvez ocorra porque a essência rebelde e experimental desses escritores resiste a uma tradução fiel para a linguagem cinematográfica convencional. No caso de Burroughs, as dificuldades são ainda mais significativas. Adaptar ou traduzir sua obra representa um desafio pesado, por vezes até insalubre, devido à natureza não linear e não discursiva de sua linguagem. Ele desenvolveu e aprofundou essa expressão transgressora como parte de seu projeto de explorar temas tabu e desafiar estruturas de poder, utilizando a técnica do cut-up — recorte e colagem de textos —, que fragmenta a narrativa e subverte as convenções tradicionais do storytelling. Burroughs foi o mais radical entre os Beats, embora, apesar da associação inevitável com o movimento devido à sua amizade com os principais membros, ele não se considerasse um Beat — é importante ressaltar esse ponto. Seu impacto transcende a literatura, influenciando a música, o cinema, as artes visuais e a contracultura. Mesmo Almoço Nu (1959), sua obra mais icônica, enfrentou problemas ao ser adaptado por David Cronenberg, em 1991. O filme, ainda que cultuado, divide opiniões sobre sua fidelidade ao espírito do original, já que a adaptação parece uma versão "higienizada" do seu trabalho, mais focada na narrativa linear e na violência explícita do que na desconstrução da linguagem e na subversão narrativa. Ainda assim, temos que reconhecer a dificuldade da empreitada e a coragem de Cronenberg ao tentar traduzir uma obra tão complexa para o cinema (eu gosto muito do filme em si).
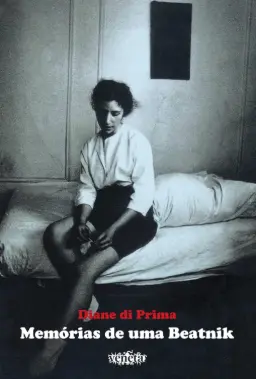
Já Queer, por sua vez, pertence à fase germinal de Burroughs, escrita num estilo mais elegante e literário — formalmente mais tradicional —, mas que ficou na gaveta por anos. Um dos motivos era a insatisfação do próprio autor com o manuscrito, que considerava incompleto. Em entrevista ao Libération, Burroughs disse: "Almoço Nu foi publicado em 1959, em Paris. Mas, quando se tratou de publicar Queer, já não tinha em meu poder o manuscrito e não tinha pressa em publicá-lo porque me parecia uma obra de amador". A verdade, porém, é que Queer também é estranho, fragmentário, fingindo contar uma história, naquele estilo que o tornou ídolo de gente como Lou Reed, Patti Smith e Laurie Anderson. Além do receio do autor, havia a censura nos Estados Unidos, daqueles anos ultrarreacionários, que impedia a publicação de textos com temática abertamente homossexual. Sobre esse período macarthista, basta lembrar que Almoço Nu foi o último texto a ser censurado nos EUA, e seu julgamento no tribunal de Massachusetts ficou famoso por angariar apoio de gigantes da cultura da época, como Norman Mailer, Alex Trocchi e Mary McCarthy. O livro foi liberado em 1966, apesar dos "cus falantes" e da "perversidade", e inviabilizou, desde então, a censura aberta a obras literárias no país. Num simpósio de 1962, em Edimburgo, Burroughs argumentou: “A censura […] é o direito presumido de agências governamentais de decidir quais palavras e imagens o cidadão tem permissão para ver. Isso é precisamente o controle do pensamento. […] Se a censura fosse removida, talvez os livros fossem julgados mais pelo mérito literário, e um livro maçante e mal escrito sobre um assunto sexual encontraria poucos leitores. Menos pessoas seriam estimuladas pela visão de uma palavra de quatro letras na página impressa. A ansiedade e a lascívia de que a censura é o fenômeno político evidente têm impedido até agora qualquer investigação científica séria dos fenômenos sexuais”.
Trinta anos depois de ser escrito, quando Queer foi finalmente em 1985, seu enredo autobiográfico revelou, para os admiradores de Burroughs (àquela altura já uma figura pop famosa por coisas que “supostamente se escondia, era gay, drogado e não era bonito”, segundo o cineasta John Waters, outro de seus admiradores), uma ternura até então invisível em seus trabalhos. Queer cumpriu o papel de humanizar um homem cuja preferência pela companhia de gatos foi interpretada como misantropia. Foi a peça que faltava para tudo sobre ele fazer sentido — não apenas seu vício em heroína, mas toda a sua produção prolífica de romances e contos. Nesse ponto, Guadagnino alcançou sucesso onde Cronenberg falhou, ao transpor para a tela essa humanidade, indo além do mito de Burroughs, fetichizado pela mera representação de seu chapéu icônico, agulhas hipodérmicas e armas, para mergulhar na fragilidade do homem.
Na trama, William Lee, interpretado magistralmente por Daniel Craig — que é Burroughs e ainda não é Burroughs, mas os dois se sobrepõem, especialmente na expressão de sua sexualidade —, é um expatriado estadunidense vivendo na Cidade do México dos anos 1950. Guadagnino recria a cidade de forma brilhante, como uma espécie de "Wes Anderson do ópio" (há algo da composição do pintor Edward Hopper aqui também). Sua solidão não é apenas física, mas também emocional e existencial. Ele se sente deslocado do mundo ao seu redor, incapaz de se conectar genuinamente com as pessoas. Essa sensação de isolamento é amplificada por seu vício em drogas, que serve tanto como uma fuga quanto como uma forma de evitar seu completo desmantelamento. Há muitas drogas aqui, montes delas, de fato. Doses generosas de tequila e heroína dominam o cenário, mas a mais perigosa de todas é a ideia de amor: a possibilidade de criar uma conexão tão profunda com outra pessoa que as palavras se tornem desnecessárias, que se alcance a telepatia ou, ainda, uma fusão tão completa que transcenda os limites desse reino da existência. Guadagnino retrata a angústia de Lee de maneira quase palpável, usando planos longos e silêncios que agudizam seu tormento, sua confusão interna que são a carne da narrativa. Ao passo que nas cenas de sexo, a câmera se aproxima e quase toca a pele dos atores, quase tão embriagada quanto os personagens.
O anacronismo da trilha sonora é uma sacada brilhante, pois rompe com as convenções típicas de um filme de época. Em vez de nos transportar completamente para os anos 1950, a música nos mantém conscientes de que estamos observando o passado a partir de uma perspectiva contemporânea. Um exemplo marcante é a cena em que Lee assiste a uma briga de galo ao som de "Come as You Are", do Nirvana. A escolha não é aleatória: Kurt Cobain, líder da banda, era um grande admirador de Burroughs e chegou a colaborar com ele no projeto "The 'Priest' They Called Him" (1993), que mesclava a leitura de textos de Burroughs com a guitarra de Cobain. Essa conexão sugere que Guadagnino pode ter se inspirado no método do cut-up, ao unir elementos e referências de diferentes épocas para criar uma espécie de cut-up audiovisual. Nessa abordagem, passado e presente se entrelaçam de maneira não linear, reforçando a ideia de que as emoções e conflitos vividos por William Lee — solidão, desejo, obsessão e marginalização — são universais e atemporais, transcendendo a década de 1950 e ecoando em qualquer contexto histórico. A fragmentação narrativa e sonora reflete a mente desordenada e caótica de Lee, assim como o cut-up refletia o projeto experimental e subversivo de Burroughs.
Mas Lee mascara suas vulnerabilidades, fragilidades e conflitos internos, projetando uma falsa confiança para o exterior: uma postura cheia de masculinidade, flertando orgulhosamente com qualquer homem que pode, preenchendo todos os espaços, falando mais alto que os outros, gesticulando energicamente pelos bares e andando armado como um cowboy à vista de todos. Ele quer se dar bem, no sentido sexual da palavra, e tem muitos relacionamentos fugazes, mas ao mesmo tempo dá a impressão de se auto sabotar, procurando fracassar em ter uma relação mais efetiva. Seu radar gay é péssimo, sua predileção por caras héteros em vez dos garotos de aluguel locais prontamente disponíveis quase sempre o leva à rejeição. Sua impetuosidade febril em busca de parceiros sexuais o torna um tanto inconveniente, quando não patético. Apesar de todos os seus defeitos e comportamentos autodestrutivos, Lee tem sua fragilidade exposta de maneira crua, e o espectador é convidado a sentir empatia por ele, mesmo quando suas ações são questionáveis — e, sendo generoso, ele não é uma figura agradável.
Ao conhecer o enigmático Eugene Allerton (Drew Starkey), Lee se vê envolvido em uma paixão avassaladora e obsessiva. O coitado parece se agarrar, como um afogado, à esperança de que tudo pode mudar: um sinal de que talvez exista a possibilidade de uma conexão real com outra pessoa. A relação dos dois é marcada por jogos de poder, manipulação e uma busca incessante por prazer carnal, principalmente da parte de Lee. Ele parece cansado de sua máscara e tenta se despir, entregando seu verdadeiro eu a Allerton. No entanto, Eugene reage de maneira ambígua às suas investidas: em um momento, parece desconfortável e refratário; no instante seguinte, demonstra interesse e se oferece como plateia para as performances de Lee. Nunca deixa claras suas intenções, e os dois parecem ser completamente diferentes. Boa parte dos 137 minutos de duração do filme explora esse relacionamento instável e unilateral, uma espécie de romance dessincronizado e meio tóxico, que nunca se resolve plenamente.
Entre idas e vindas, Lee convence Eugene a acompanhá-lo em uma viagem à América do Sul em busca do yagé, a droga que, segundo ele, promete oferecer poderes telepáticos a seus usuários — pelo menos essa é sua crença. Nessa segunda metade do filme, após crises de abstinência, muitos quilômetros percorridos em ônibus precários e trilhas pela Floresta Amazônica, chegamos à sequência que representa o ponto crucial da relação entre os dois. Lee e Allerton participam de um ritual de yagé (também conhecida como ayahuasca, daime, santo-daime) uma bebida enteógena capaz de expandir a consciência e induzir ao estado xamânico ou de êxtase, inspirando visões intensas e profundas introspecções. Durante o efeito da droga, Lee e Allerton se fundem em uma única entidade, representada visualmente por uma imagem distorcida e onírica dos dois corpos se misturando física e emocionalmente. A cena remete às pinturas de Francis Bacon — amigo de Burroughs em vida —, tanto na distorção das figuras humanas quanto no uso de cores intensas e atmosferas opressivas. As cores são vibrantes e saturadas, as imagens são distorcidas e fragmentadas, e a trilha sonora contribui para a sensação de desorientação e transcendência.
Essa cena funciona como um catalisador que expõe as verdades mais íntimas dos personagens. Enquanto Lee se entrega desesperadamente à experiência em busca de um elo com o amado, Eugene confronta-se com verdades incômodas sobre si mesmo, o que o leva a se afastar definitivamente da intensidade opressiva de Lee. O distanciamento de Eugene marca um ponto de virada na narrativa, destacando a natureza desigual e destrutiva da relação entre os dois.
Há ainda um terceiro ato, repleto de simbolismos e referências à vida real de William S. Burroughs, onde Guadagnino assume uma narrativa surrealista. Esse segmento demonstra um profundo conhecimento da vida do escritor, o que certamente traz mais camadas de leituras para os conhecedores da obra de Burroughs, sem deixar, porém, de oferecer uma experiência única para qualquer espectador.
Um ponto negativo, no entanto, é que o diretor foi obrigado a cortar 50 minutos do filme, que originalmente teria 3 horas de duração. Esse corte foi necessário para garantir a distribuição e exibição em festivais. Ainda assim, a obra oferece uma experiência de imersão sensorial fascinante. Quem sabe, no futuro, não tenhamos uma "versão do diretor" com as 3 horas prometidas?
Por fim, achei interessante a opção do diretor de iniciar o filme focalizando o manuscrito com a primeira palavra escrita por William Burroughs e terminar, transformando as palavras em imagens oníricas, com suas últimas anotações no diário íntimo, três dias antes de sua morte, em 2 de agosto de 1997. E o que ele escreveu?
"Amor? O que é isso? Analgésico mais natural que existe. AMOR."
Nascido em 1981, o paulistano João Pinheiro se formou em artes plásticas. Tem publicado seus quadrinhos e ilustrações em revistas do Brasil e do exterior, e é autor dos livros Burroughs, Carolina e Depois Que o Brasil Acabou, todos pela Veneta.
Títulos relacionados: