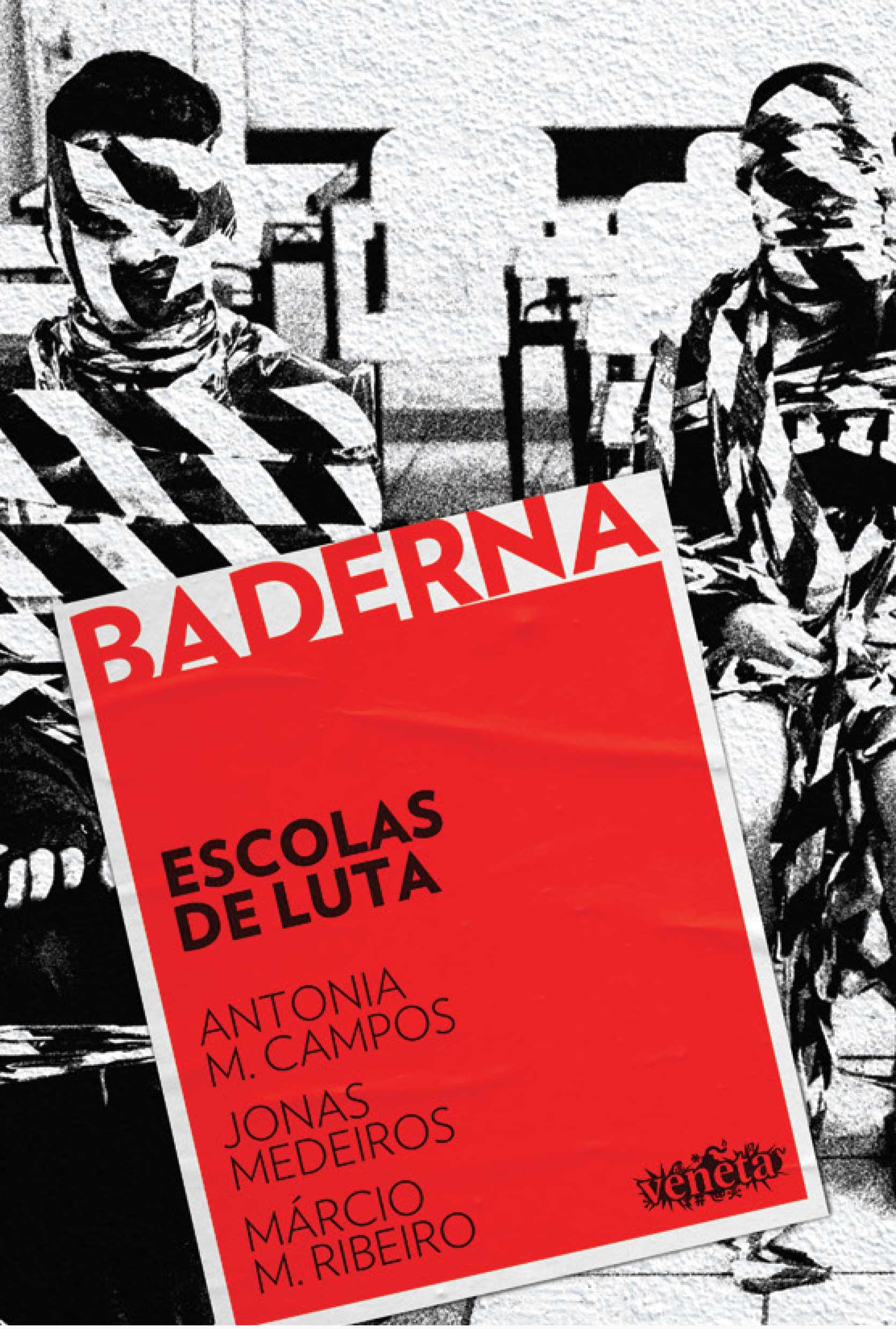DEMOCRACIA EM VERTIGEM: UM “SONHO CURTO” DE UM SEGMENTO SOCIAL
Siga-nos
ÚLTIMOS POSTS

Por Antonia M. Campos*
Imagens: Divulgação
“A tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção em que vivemos é na verdade regra geral. Precisamos construir um conceito de história que corresponda a esta verdade” – Walter Benjamin
 Imediatamente depois que o novo documentário de Petra Costa – “Democracia em Vertigem” – foi lançado, ele já repercutia nas redes sociais. Alguns amaram, outros detestaram. Eu fiquei um pouco no meio desse espectro, explico aqui o porquê.
Imediatamente depois que o novo documentário de Petra Costa – “Democracia em Vertigem” – foi lançado, ele já repercutia nas redes sociais. Alguns amaram, outros detestaram. Eu fiquei um pouco no meio desse espectro, explico aqui o porquê.
O filme é muito bem feito: captação de imagens ótima, edição boa, trilha sonora excelente e acesso privilegiado a alguns bastidores do Lula e da Dilma, que são as personagens centrais. Eu fui assistir com expectativa muito baixa, acreditava ser uma peça de propaganda barata da narrativa petista sobre o golpe: no fim, essa é a narrativa sim, mas o filme oferece algumas coisas interessantes, pois justamente assume seu lugar enquanto peça de testemunho. O que quero dizer com isso é que fica escancarado pela própria diretora (que faz essa opção) que o filme é um testemunho pessoal dos últimos anos tais quais vividos pelo sujeito petista que guardava muita esperança com os governos, se decepcionou levemente e depois ocupa um lugar melancólico de indignação e perplexidade com o processo político que seguiu.
Não é um filme ingênuo idealizador do PT: a autora (porque apesar de ser documentário é um filme de caráter altamente autoral) fala desde o início dos acordos e dos gestos de conciliação que o PT fez para chegar ao poder, há inclusive uma sequência interessante do Lula em 89, 94, 98 e 2002 mostrando a mudança gradual do discurso em relação ao empresariado. Também é apontada a aliança com o PMDB e a corrupção em nome da governabilidade. O problema é que esses fatos são contrapostos àquilo que já estamos cansados de ouvir: “milhões saindo da fome, crescimento econômico, ampliação do acesso à educação superior”. A autora nesse momento está com aquele sentimento ambíguo típico de quem cresceu votando e acreditando no PT: apontando o mal necessário para o bem maior.
Mas e a crítica das políticas públicas em si, onde fica? Não há tematização da política de segurança pública genocida e que estimulou a ascensão das milícias, da brutalização e militarização do cotidiano das pessoas, da inclusão dos mais pobres pelo consumo, do estímulo à expansão das igrejas evangélicas. Por que é importante tematizar essas coisas? Porque são todos elementos que ajudam a explicar o que aconteceu depois. A crise política não é fruto meramente do mal que o PT fez para poder fazer o bem, é fruto também do que o PT fez achando que estava fazendo o bem. Mas tudo isso são coisas do âmbito do tecido social e não do jogo institucional em Brasília, e aí está outro problema do filme: ele se limita a uma definição de “democracia” que é puramente institucional, beirando o formalismo vazio: “democracia” é reduzida a “normalidade institucional”.
Aliás, “tecido social” é uma expressão que a diretora usa, mas ele próprio não existe no filme. Pra variar, ela inicia a história da crise política em 2013: ali teria ocorrido uma “ruptura do tecido social”. Até ali, parece que ocorria tudo bem na normalidade conduzida pelo partido e pelos atores que gravitam em torno dele: a redemocratização fruto de muita luta (infelizmente no filme o processo social complexo, diverso e riquíssimo de lutas da década de 70/80 é reduzido à história dos pais da diretora, da Dilma e do Lula) seguida dos direitos sociais e da redução da pobreza. Um “sonho curto” que se interrompe pela dura realidade do sistema político corrupto. Ora, mas se foi tudo um sonho democrático, por que a população estava em 2013 nas ruas gritando justamente a palavra de ordem “democracia!”, como aparece no próprio filme? Esse é o problema de usar os protestos de Junho como explicação do que vem depois e não como sintoma do que veio antes. Junho não é só explicativo, ele precisa ser explicado.
Essa é a melancolia e a cegueira de uma burguesia progressista que apostou suas fichas no PT e aprendeu a colar o substantivo “democracia” nas instituições geridas pelo partido: filha de uma mãe que foi presa na ditadura e “viu no Lula tudo pelo qual ela tinha lutado”, Petra Costa não considera que, ao mesmo tempo que ela vivia esse “sonho curto”, uma parte enorme da população vivia o pesadelo do encarceramento, das UPPs, do PCC, do evangelho segundo a Rede Record, do subfinanciamento do SUS, das escolas públicas caindo aos pedaços, de Belo Monte, das mineradoras etc. – ao mesmo tempo que havia redução da fome, expansão das universidades e mobilidade vertical individualizada. Não estou dizendo que tudo é culpa do PT, mas que se vamos compreender a crise política precisamos olhar para o conjunto de mudanças na sociedade brasileira durante seus governos e não apenas para o Eduardo Cunha e o Sérgio Moro.

Porque as pessoas em 2013 viam o PT como um partido igual aos outros e as instituições por ele geridas como anti-democráticas? Seria isso um delírio coletivo inexplicável? Ou seria sintoma de mudanças ocorridas no cotidiano da classe trabalhadora nesse período? A diretora permanece perplexa sem saber nem formular essas perguntas: um dia em um mês de junho qualquer multidões decidiram inexplicavelmente que o PT era igual a qualquer um e ninguém no sistema político os representava. Petra Costa narra: “o partido não mobiliza mais os sonhos das pessoas e sim vira o alvo”. E daí tudo “começou” a dar errado, pois Dilma respondeu aos protestos com as medidas anti-corrupção que depois levam à Lava-Jato. 2014, os protestos contra a Copa e a repressão do governo federal – assim como o estelionato eleitoral do início de 2015 – simplesmente não existem no filme.
A partir daí, a narrativa é tudo que já estamos cansados de ouvir: a polarização violenta PT/anti-PT engole a “democracia” e o país “se divide em partes irreconciliáveis”; se alternam nas ruas protestos vermelhos e protestos verde-amarelos; PSDB e mídia são fiadores do golpe e da perseguição politico-jurídica de Lula, que termina com sua prisão num evento épico e memorável no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O filme é uma contemplação do processo centrado nas personagens ilustres (e grotescas) dos caminhos e descaminhos institucionais, as ruas são mero pano de fundo da multidão polarizada, não sujeitos a serem investigados.
A perplexidade é sempre o tom, mas há alguns ensaios de explicação da diretora, que também casam perfeitamente com o que é comumente apontado pelo PT: foi a luta de classes, as elites não aceitaram as reformas do PT. Um dos momentos mais vulgares é a sobreposição de uma citação de Warren Buffet sobre a guerra dos ricos contra os pobres às imagens de militantes dormindo no sindicato em apoio ao Lula: como se aquele momento encapsulasse a luta de classes no Brasil e a falência da “democracia”. O PT e a situação social da burguesia e classe média petistas – aliadas a um institucionalismo – são o centro epistêmico do filme: a partir daí se deriva a própria definição de “democracia”.
Vendo aquelas imagens do discurso de Lula no Sindicato, me lembrei um relato do Márcio Moretto Ribeiro que estava lá e encontrou um grupo de secundaristas com quem entramos em contato durante a nossa pesquisa para o livro Escolas de Luta: eles compareceram ao sindicato (explicaram que não estavam ali por Lula e nem pela democracia, que nunca existiu, mas contra a direita), mas ao mesmo tempo tensionavam o clima cantando: “Olê Olê Olá, Rafael Braga!”, apenas para serem respondidos com “Olê Olê Olá, Lula!”. Era um apelo: por que a medida do que é “democracia” não pode ser feita a partir de nós? Por que estamos sempre ausentes dos diagnósticos sobre o que é (e o que deixa de ser) “democracia”?
O que me leva a outra consideração: a diretora parece assustada com a polarização, mas não há narrativa por fora dela. Em 2015, 2016 e 2017 cabe perguntar: o que estava acontecendo que corria por fora e tentava algo diferente? Essa historia não é contada, não são presentes na história recente da “democracia” sujeitos sociais que não ocupam nenhum dos pólos organizados em torno do PT. Me lembrou o clássico do Eder Sader: podem novos personagens entrar em cena? Aparentemente ainda não, a “democracia” no Brasil está sendo contada pelos personagens que entraram em cena e ganharam protagonismo nas décadas passadas, os novos tentam como podem insurgir na história, mas raramente são vistos e seguem sendo sufocados tanto pela polarização de facto quanto pelas epistemologias partidárias, polarizadas e institucionalistas dos documentaristas, cientistas políticos e analistas de conjuntura de plantão.

Depois de todas essas críticas, o que eu gostei do filme? Paradoxalmente, eu gostei que ele é escancaradamente esse ponto de vista pessoal da Petra Costa (e de muitos outros que se identificam com a epistemologia dela). É escancarado e transparente, a própria Petra não poupa nem cenas de si que poderiam ser interpretadas na chave do ridículo: ela e a mãe dançando e girando (ao som de um piano quase irônico) na Avenida Paulista após a eleição de Dilma – uma vertigem de fato.
Se ao mesmo tempo centrar na experiência dela e da família dela limita o campo de visão sobre o que é “democracia” e porque entramos numa crise política, dá honestidade pra narrativa e mostra que são vidas, gerações todas entrelaçadas com esse partido, como a vida e os pais da Petra Costa. E esse roteiro emocional do filme me ajudou a me colocar num lugar que eu não ocupo normalmente, que é o de quem acha que o PT foi derrubado porque ousou reformar, de quem acha que antes do golpe os avanços superavam os retrocessos, de quem chorou quando Lula foi preso. Eu sempre tive dificuldade de entender a adoração que ressurgiu nesse neo-lulismo apaixonado pós-golpe. Esse filme me fez chorar quando Lula chorou no velório de Marisa, me fez chorar quando ele foi preso – não porque eu mudei de posição, mas porque ele me ajudou a entender esses sujeitos. E nesse sentido ele foi didático pra mim porque, se eu entendo melhor as emoções e visões de mundo desse segmento social, eu passo a entender melhor os limites dele e dos sujeitos a ele pertencentes. Enquanto cientista social pra mim isso é valioso.
A melhor maneira de aproveitar o documentário “Democracia em Vertigem” é assisti-lo como incursão antropológica na subjetividade de um segmento social específico que viu na eleição de Lula e Dilma o coroamento de um processo doloroso de lutas democráticas e na sua remoção do poder o fim da democracia. Esse segmento não está descolado da realidade (de fato o PT e a redemocratização são produtos de lutas e sua remoção foi fruto extra-ordinário de articulações corruptas), mas ele a recorta demasiadamente e por isso não entende direito a experiência de uma parte enorme da população que assiste sem grande empatia o processo. É interessante que o documentário foca brevemente em uma faxineira do Palácio da Alvorada: ela começa dizendo que Dilma fez por merecer, mas duvida se foi realmente o povo que tirou ela; depois pondera que seria melhor novas eleições porque o impeachment não foi uma escolha da democracia – apenas para logo retificar sua fala: “na verdade não existe uma democracia”. É praticamente um ato falho: um filme sobre democracia feito por uma diretora burguesa, mas que brevemente joga ali a cena de uma faxineira dizendo que não há democracia.
O diagnóstico da faxineira não é explorado e este é o problema. Como Walter Benjamin nos ensina, o conceito de “história” precisa acompanhar os oprimidos. O de “democracia” também. É preciso que nossos diagnósticos sejam construídos a partir das experiências dos sujeitos subalternos da nossa sociedade: a falência das instituições representativas muito antes do golpe, Belo Monte, as prisões, as UPPs e o cotidiano brutalizado, os costumes e as igrejas evangélicas, enfim. São muitas as experiências vividas nesses mundos sociais – experiências que poderiam iluminar muito sobre a crise política.
É preciso também investigar os novos atores – aqueles que teimam em entrar em cena por fora da polarização PT/anti-PT: as redes de resistência ao genocídio negro; a comunicação e jornalismo popular das favelas; os comitês populares da Copa; as ocupações secundaristas; os movimentos indígenas, feministas, culturais das periferias, dos atingidos por barragens, entre outros.
Até mesmo a partir de dentro do campo de influência do PT outros documentários mais interessantes poderiam ser feitos, explorando o processo político vivido não pela burguesia petista, mas pelos movimentos sociais. Algumas pessoas elogiaram a “autocrítica” de uma breve entrevista com Gilberto Carvalho que aparece no filme, na qual ele diz que um dos erros do PT foi não ter permanecido investindo nos movimentos sociais e na pressão popular (e portanto dependendo muito da formação de maioria no Congresso para governar). Isso para mim não é uma autocrítica: é um atestado de que parte do partido via os movimentos sociais como seu exército particular e não como atores com suas próprias concepções de democracia. Sabemos, pelos estudos que há a respeito, que a relação entre governo e movimentos sociais nos governos do PT foi simultaneamente de proximidade e de tensão, pois justamente os movimentos são atores, não são meras peças na engrenagem partidária como Gilberto Carvalho parece querer. Uma concepção como a dele deve desprezar a oposição de confronto direto dos movimentos de 2013, mas também parece insultar levemente a inteligência de outros atores que passaram décadas travando embates nas ruas e nos conselhos participativos – para depois serem arrastados pela história numa sequência de repressões cada vez mais aterrorizantes desde Dilma até Bolsonaro e de um emparedamento cada vez maior pela polarização e pela extrema direita. No fim, Gilberto Carvalho teve o que queria: movimentos sendo obrigados a atuar como exército de defesa do partido nas ruas. Como aqueles atores vivem tudo isso?
Perplexa e assustada, Petra Costa termina o documentário perguntando: para onde olhamos quando o futuro parece tão assustador? Ora, justamente para onde ela não está olhando.
*Antonia M. Campos é socióloga e coautora de Escolas de Luta
Leia também: #15M: Sucesso, desafios e próximos passos para barrar os cortes
Produtos relacionados