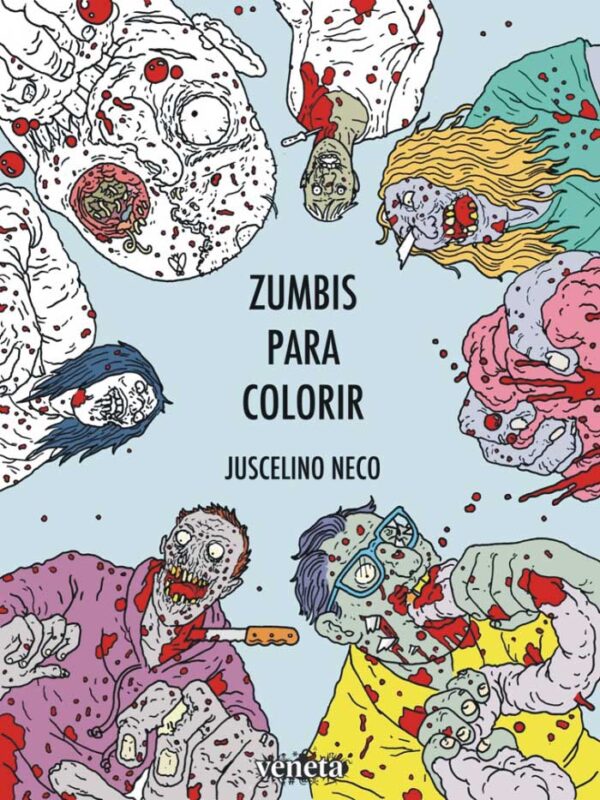ESTILO SOBRE SUBSTÂNCIA
Siga-nos
ÚLTIMOS POSTS

*Por Juscelino Neco e Joaquim Dantas
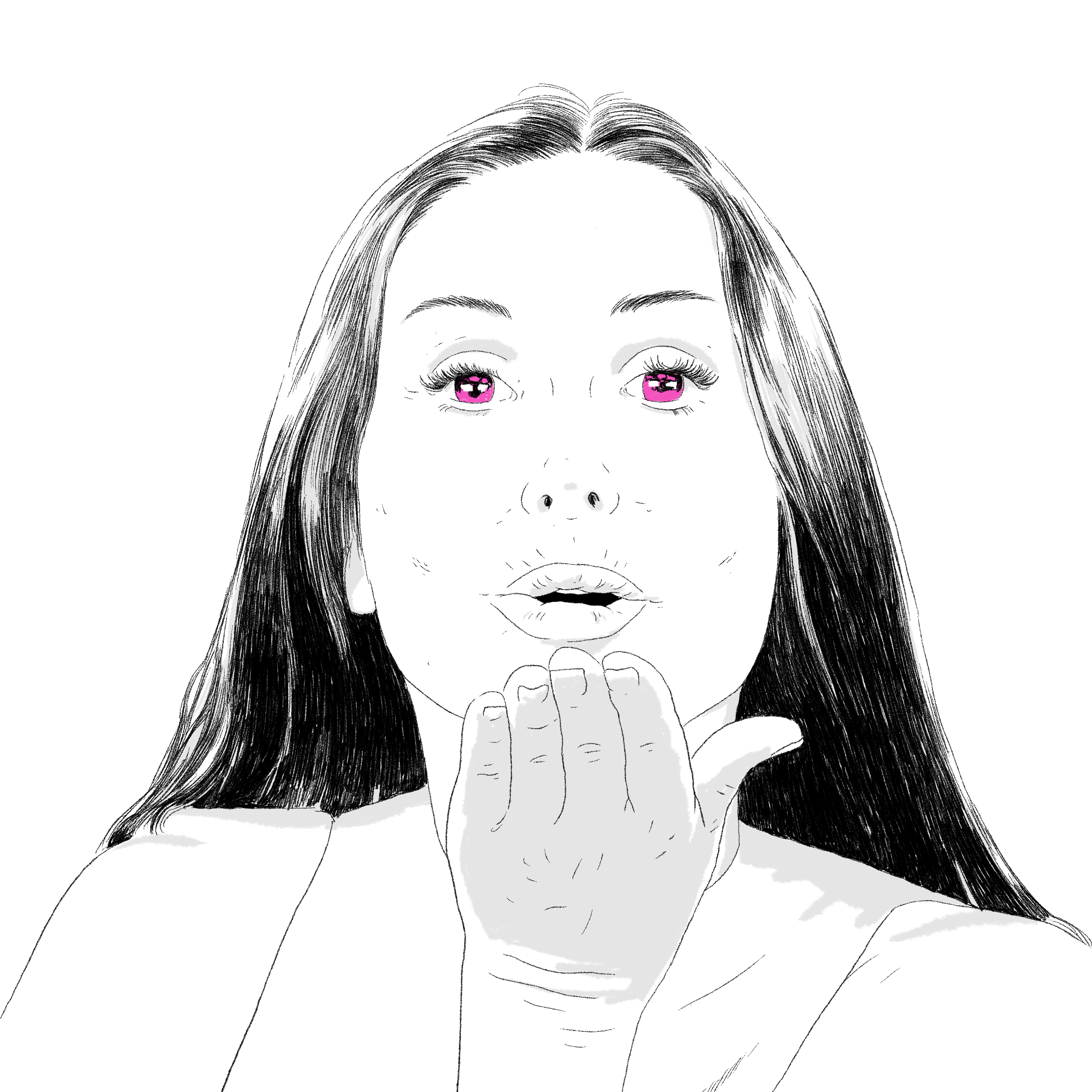 Se você for online agora e procurar reviews de A Substância – um dos filmes de terror mais hypados de 2024, no topo de muitas listas de melhores do ano –, você provavelmente vai encontrar duas expressões repetidas várias e várias vezes, tanto nas falas da própria autora em entrevistas quanto nas resenhas críticas sobre a obra: body horror & David Cronenberg. A minha impressão é que somente uma dessas assertivas é realmente verdadeira. Explico: A Substância é, sem sombra de dúvidas, um filme que se lambuza no imaginário do horror corporal; ao mesmo tempo em que é também um filme que, fundamentalmente, não tem nada ou quase nada de David Cronenberg.
Se você for online agora e procurar reviews de A Substância – um dos filmes de terror mais hypados de 2024, no topo de muitas listas de melhores do ano –, você provavelmente vai encontrar duas expressões repetidas várias e várias vezes, tanto nas falas da própria autora em entrevistas quanto nas resenhas críticas sobre a obra: body horror & David Cronenberg. A minha impressão é que somente uma dessas assertivas é realmente verdadeira. Explico: A Substância é, sem sombra de dúvidas, um filme que se lambuza no imaginário do horror corporal; ao mesmo tempo em que é também um filme que, fundamentalmente, não tem nada ou quase nada de David Cronenberg.
Mas não vamos colocar as mãos pelos pés – nesse caso, literalmente. Primeiro é preciso entender de que inferno grotescamente suculento a gente está falando quando usa o termo “body horror”.
Todo cinéfilo minimamente consciente das estruturas e das tradições do cinema de horror sabe que esse termo faz referência a uma pletora de filmes que lidam com o uso radical de gore, violência e violação no tratamento do corpo humano; é a própria carne, o próprio sangue, as tripas e os fluidos corpóreos como nascedouro absoluto e entidade última do medo.
Nós já vimos isso a partir de incontáveis abordagens estéticas – e com variados graus de qualidade, efetividade e orçamento, diga-se de passagem: do brilhante Tetsuo – O Homem de Ferro [1989] ao exploitation A Centopeia Humana [2009], do underground classudo Possessão [1981] ao indie de baixo orçamento Cabana do Inferno [2002], do efetivamente cronenberguiano Viagens Alucinantes [1980] ao ainda mais efetivamente cronenberguiano – já que foi dirigido por “um outro” Cronenberg, o Brandon, filho do homem – Possessor [2020]. No entanto, mais do que em qualquer outro momento, talvez tenha sido nas décadas de 1980 e 1990 que nos deparamos com a maior quantidade dos esporos que hoje formam o cânone desse gosmento subgênero.
 Numa abordagem mais cômica e extravagante – mas não menos perturbadora –, podemos apontar para nomes como os de Peter Jackson (na fase gênio, com Fome Animal [1992] e Náusea Total [1987]), Stuart Gordon (em especial, com suas adaptações lovecrafteanas mais famosas, Re-animator [1985] e Do Além [1986]), Brian Yuzna (com seu cult classic A Sociedade dos Amigos do Diabo [1989]) ou mesmo Loyd Kaufman (com as várias aventuras do O Vingador Tóxico [1984] ou fundamentalmente qualquer peça do catálogo baixo-orçamentístico da Troma). Por sua vez, numa perspectiva um pouco menos ortodoxa desse cânone, é possível pensar em filmes como Hellraiser [1987] (Clive Barker explorando as reentrâncias entre horror e prazer nos limites masoquistas da carne, sintetizados nas figuras grandiosas dos Cenobitas), Uma Noite Alucinante 2 [1987] (Sam Raimi torturando Bruce Campbell com mais orçamento que no original, mais referências aos Três Patetas e mais galões de sangue), Um Lobisomem Americano em Londres [1981] (John Landis e Rick Baker esmiuçando o terror físico da transformação em lobisomem) e até mesmo A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy [1985] (Fredy literalmente abrindo caminho a navalhadas de dentro pra fora do corpo do por muito tempo controverso “final boy” Mark Patton é um elemento inegável de body horror); isso sem falar no clássico máximo absoluto, topo de toda e qualquer lista séria de “melhores etc. etc. de todos os tempos”, O Enigma de Outro Mundo [1982] de John Carpenter. Um adendo interessante: se você parar pra pensar um pouquinho, o movimento do Torture Porn (de franquias como O Albergue e Jogos Mortais) e toda aquela renascença do Extremismo Francês (com filmes como A Invasora [2007] e Mártires [2008]) são, essencialmente, filhos e descendentes do horror corporal.
Numa abordagem mais cômica e extravagante – mas não menos perturbadora –, podemos apontar para nomes como os de Peter Jackson (na fase gênio, com Fome Animal [1992] e Náusea Total [1987]), Stuart Gordon (em especial, com suas adaptações lovecrafteanas mais famosas, Re-animator [1985] e Do Além [1986]), Brian Yuzna (com seu cult classic A Sociedade dos Amigos do Diabo [1989]) ou mesmo Loyd Kaufman (com as várias aventuras do O Vingador Tóxico [1984] ou fundamentalmente qualquer peça do catálogo baixo-orçamentístico da Troma). Por sua vez, numa perspectiva um pouco menos ortodoxa desse cânone, é possível pensar em filmes como Hellraiser [1987] (Clive Barker explorando as reentrâncias entre horror e prazer nos limites masoquistas da carne, sintetizados nas figuras grandiosas dos Cenobitas), Uma Noite Alucinante 2 [1987] (Sam Raimi torturando Bruce Campbell com mais orçamento que no original, mais referências aos Três Patetas e mais galões de sangue), Um Lobisomem Americano em Londres [1981] (John Landis e Rick Baker esmiuçando o terror físico da transformação em lobisomem) e até mesmo A Hora do Pesadelo 2: A Vingança de Freddy [1985] (Fredy literalmente abrindo caminho a navalhadas de dentro pra fora do corpo do por muito tempo controverso “final boy” Mark Patton é um elemento inegável de body horror); isso sem falar no clássico máximo absoluto, topo de toda e qualquer lista séria de “melhores etc. etc. de todos os tempos”, O Enigma de Outro Mundo [1982] de John Carpenter. Um adendo interessante: se você parar pra pensar um pouquinho, o movimento do Torture Porn (de franquias como O Albergue e Jogos Mortais) e toda aquela renascença do Extremismo Francês (com filmes como A Invasora [2007] e Mártires [2008]) são, essencialmente, filhos e descendentes do horror corporal.
Dito isso, é fato que o nome que mais associamos a esse motivo estético é, sem dúvidas, o do canadense menos caloroso da história do cinema, David Cronenberg. Mas, novamente, aqui parece que as pessoas cometem um terrível engano: sim, Cronenberg é o Papa do horror do corpo; no entanto, nem todo body horror é cronenberguiano! Isso porque, diferentemente do que acontece com a maioria dos sujeitos que se aventuraram por esse caminho de tripas, em Cronenberg, o corpo terrível não é somente uma imagem explosiva na tela, um signo visual grotesco ou um apelo semiótico disruptivo; em Cronenberg o horror corporal necessariamente DIZ algo!
Em Calafrios [1975] e Fúria [1977], os horrores do corpo exploram os extremos e o jogo de poder das relações sexuais; em Os Filhos do Medo [1979], são escaras e “brotos de carne” psicossomáticos; em Scanners, Sua Mente Pode Destruir [1981], são marcas de uma incompreendida mutação evolutiva; em Videodrome – A Síndrome do Vídeo [1983], são a “new flesh” nascida dos estímulos excessivos – e das tentativas de superação do tédio gerado por esses estímulos – da super sexualização da TV (Crash – Estranhos Prazeres [1996] segue essa mesma lógica, mas refletindo criticamente sobre a pornografia e a objetificação sexual e/ou sexualização dos objetos); em A Mosca [1986], talvez o ponto mais alto dessa poderosa metáfora nas mãos de Cronenberg, o horror corporal é símbolo do fim da individualidade (Seth unido à mosca e, no clímax do filme, tentando unir o híbrido BrandonFly a sua companheira grávida) e dos limites da Ciência; é também marca do poder sexual da carne sobre a intelectualidade da mente; e, em essência, é o signo último da Vida e da Morte, segundo o qual viver – para nós, corpos feitos de carne – é o processo absoluto da deterioração e da obliteração.
Ou seja: tem o horror corporal que é estilo, que é forma, e tem o horror corporal que é conteúdo, substância. E onde entra A Substância nesse cânone? A resposta honesta é: nem exatamente aqui e nem exatamente ali.
Acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar é que o filme de Coralie Fargeat, em suas mais de 2h20min de duração, é composto, na verdade, por dois filmes muito distintos – o que, na minha leitura, é, a um só passo, uma brilhante jogada comercial e uma contundente falha narrativa.
O “primeiro filme” gira em torno da personagem Elizabeth Sparkle (Demi Moore), uma espécie de guru fitness cinquentona em decadência, famosa por comandar um programa de TV dedicado exclusivamente a horas e mais horas de pessoas fazendo ginástica em roupas de lycra justíssimas enquanto gritam bordões motivacionais sob o impacto de uma trilha sonora de batidas eletrônicas – uma coisa bem no estilo das fitas VHS da Jane Fonda nos anos 1980 ou da Ana Maria Braga em seus momentos mais ousados. A trama começa a se desenrolar quando a personagem é demitida de seu programa – “Depois dos 50 anos isso acaba”, explica Harvey (Dennis Quaid), o produtor – sexista e etarista de uma maneira deliciosamente caricatural – a uma perplexa e indignada Elizabeth, que pergunta, sem obter resposta, “E o que seria isso?”, numa translúcida crítica à indústria do entretenimento e seu tratamento com as mulheres. Essa reviravolta deixa a heroína completamente atordoada e sem rumo.
É nesse ponto baixo que ela é apresentada a tal Substância do título, um medicamento experimental “vendido” no mercado negro que promete dar temporariamente aos seus usuários (“7 dias para a matriz, 7 dias para a outra”) uma versão mais jovem e melhor de si mesmos – digo “vendido” entre aspas porque, em nenhum momento, ninguém compra esse negócio, que é como se fosse uma versão pós-moderna do mito anos 1990 do sujeito que dava confeitos recheados com cocaína às crianças na rua, o empreendimento menos lucrativo da história das lendas urbanas. Assim, depois de um processo farmacológico grotesco que é ver para crer, nasce Sue (Margaret Qualley).
E é isso! Pelo próximo longo braço do filme, o que acompanhamos essencialmente é a ascensão de Sue, como novo rosto/bunda do programa fitness de ginástica dançante (e haja bunda nesse filme, que, por vezes, parece ter sido dirigido, ainda que com infinitamente mais elegância e estilo, pelos responsáveis pela Banheira do Gugu), e a decadência de Elizabeth, cada vez mais aprisionada às armadilhas senso comum do envelhecimento: horas gulosas diante da TV, obliteração social e livros de culinária francesa. Aqui ainda há muito pouco de horror corporal no sentido concreto do termo, excetuando alguns lampejos visuais efetivos de decadência e violação da carne por entre as toneladas de lycra, ginástica e música techo preset de Teclado Casio. Um dado interessante está na escolha do nome da personagem “outra”: ela se chama Sue, que é anagrama de “use” (“uso/usar”), o que já dá uma boa deixa de qual seu papel no espectro das relações sociais – a questão passa a ser então “quem usa quem?”.
Esse segmento suga pelo canudinho aí umas boas 1h40min/1h50min da película e, não fosse pela atuação soberba e completamente transtornada de Demi Moore, que consegue superar até mesmo a chateação repetitiva das cenas e a fragilidade simplista das metáforas do roteiro (misteriosamente vencedor do prêmio de roteiro em Cannes!), esse troço não passaria muito de um exercício em estilo e de dilatação completa do tédio. E aqui é preciso enfatizar: Demi Moore é o ponto alto, altíssimo, dessa primeira parte do filme!
A atriz come cada milímetro de tela como um animal nervoso e esfomeado, a um só passo completamente descontrolada e totalmente em controle de sua performance, o tipo de atuação alcançada apenas através da destilação do tempo, da experiência e do talento. A atriz entrega tudo e não esconde nada, numa versão subvertida daquele que foi provavelmente seu papel mais famoso, em Striptease [1996] – o óbvio espelhamento entre a vida da personagem e a carreira da atriz é tão direto que, sinceramente, nem sei se vale a pena apontar (até porque já foi apontado à exaustão em tudo quanto é comentário e crítica do filme). O mesmo pode ser dito, ainda que em menor escala – devido a seu tempo reduzido de exposição na tela –, sobre Dennis Quaid, um ator também veterano e que brilha na sua caracterização parodística, que só pode ser descrita como um cruzamento entre Harvey (hã, hã, sacou, sacou???) Weinstein, um crooner aposentado de Las Vegas e Roy Hess, o melhor amigo do Dino da Família Dinossauro. Novamente: o filme tece seus comentários e “sugestões” com a delicadeza de quem faz cirurgia dental com uma marreta.
No entanto, apesar dessas duas atuações cruas e selvagens – Margaret Qualley, como Sue, infelizmente, não tem muito a fazer nesse “premiado roteiro”, a não ser sorrir, gritar eventualmente e rebolar envelopada em spandex –, esse segmento do filme parece ter sido feito exclusivamente para angariar as moscas do público jovem e/ou pseudo-intelectual. Você conhece o tipo, esse pessoal que só é capaz de entender uma metáfora se ela tiver a profundidade de um pires e que é obcecado com esse tal de “pós-horror” e com a narrativa de terror contemplativa, arrastada e, em muitos casos, completamente vazia – que já andam definindo como o “modelo A24”, uma estranha tendência do cinema de horror atual.
O filme é um óbvio e redundante comentário alegórico sobre a desumanização e a objetificação das mulheres pela indústria cultural? Isso está claro como o dia! É mais alguma coisa além desse único, óbvio e redundante comentário? Rapaz, até aqui…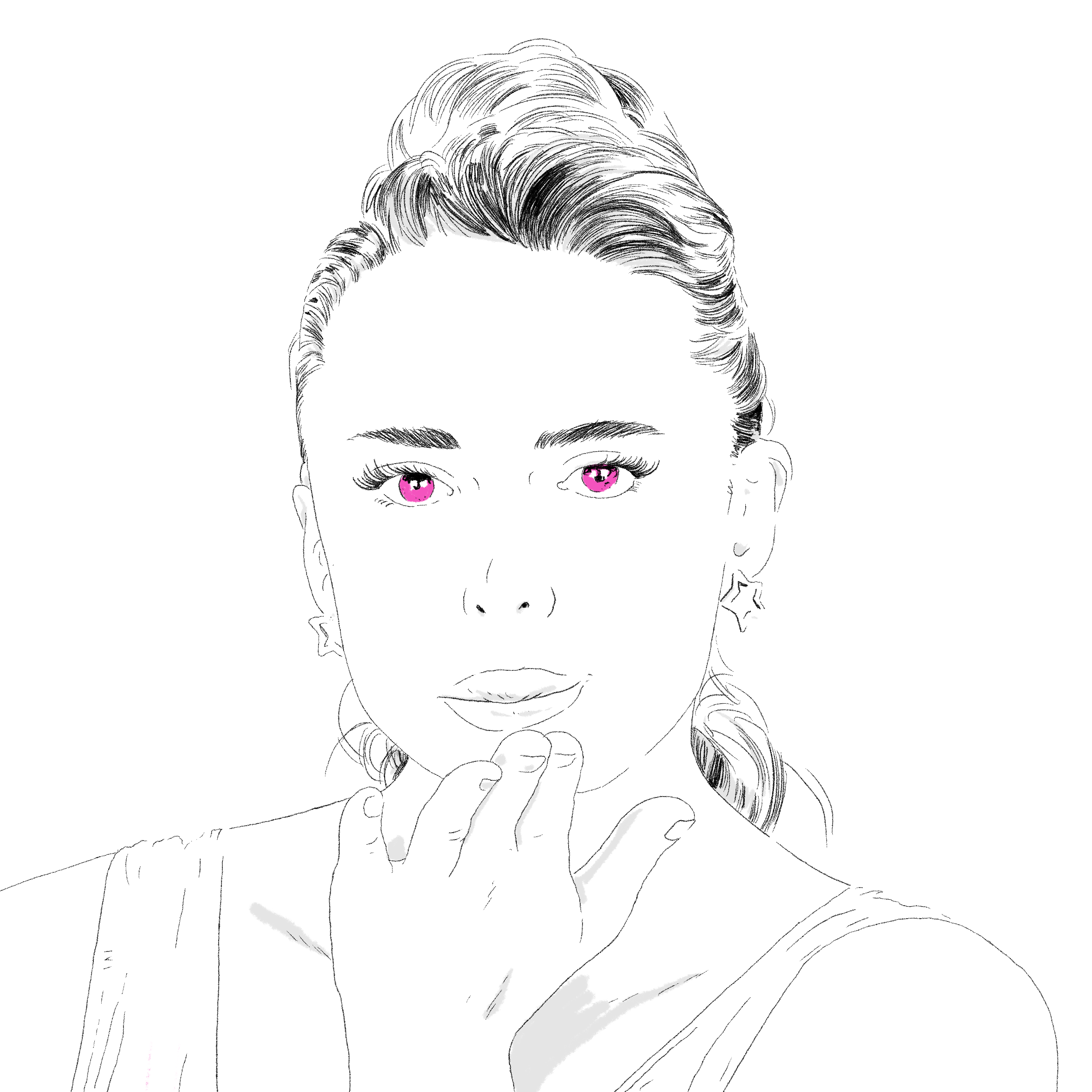
Ou seja, esse é o filme de terror que PARECE pensar! O filme que constrói uma crítica que PARECE complexa, e que faz com que o público saia da sala de cinema com a seríssima e EQUIVOCADA impressão de que é muito inteligente; tão inteligente que foi capaz de quebrar o código do filme – código esse que estava, já de início (desde o trailer, desde o cartaz!), absolutamente escancarado, tão indecifrável quanto uma revistinha de palavras-cruzadas que já veio com metade das colunas respondidas!
Metáforas rasas, cenas repetitivas e distensão desnecessária da duração do filme – esse último, inclusive, o grande mal do cinema atual, filmes infinitamente mais longos do que precisam ser – são falhas de construção narrativa? Sem dúvidas! São também uma sacada comercial de gênio? Nem se fala! O fato de eu ter ouvido, na saída do cinema, as pessoas comentando coisas como “o filme podia ter acabada no momento em que as duas estão acordadas ao mesmo tempo”, “eu estava gostando até aquela parte do final” só comprova isso. As pessoas foram ao cinema ver esse “poderoso filme pensante”! Foi essa ideia de “filme de gênero com conteúdo” que ganhou e ainda vai ganhar muito prêmio por aí – pergunte a Jordan Peele o que ele fez em Corra [2017] e Nós [2019] e ele te responderá. No entanto, assim como Peele – que precisou primeiro entregar duas mãos de açúcar autoexplicativas em formato de filme para, somente então, poder fazer seu primeiro filme REALMENTE brilhante, Não! Não Olhe! [2022] –, Coralie Fargeat precisou entregar essa “profundíssima crítica da indústria cultural” pra poder fazer, no terceiro ato de A Substância, sua versão modernizada do horror corporal gore extravagante e hilário dos anos 1980! E, meus amigos, quando esse “segundo filme” começa… Que revelação!
O terceiro ato de A Substância começa justamente quando as duas personagens, Elizabeth e Sue, estão acordadas ao mesmo tempo – questão que deveria ser impossível, devido ao funcionamento do milagroso medicamento. E qual é a primeira coisa que elas fazem quando estão cara a cara? Se engajar numa furiosa, violentíssima e hilariante luta corpo a corpo entre jovem fitness e monstro mutante ressequido. Ri alto no cinema, desde o primeiro chute – dado no meio do externo da venerável anciã, que é arremessada voando através da sala, bem ao estilo dos filmes de kung-fu da Shaw Brothers – até o golpe fatal na então completamente destruída e aniquilada Elizabeth. Aqui o horror corporal toma fôlego; não o body horror reflexivo de Cronenberg (tirando uma rápida referência visual a A Mosca na cena com os dentes e as unhas caindo), mas sim a extravagância lúdica, desmedida, irreverente, completamente despombalizada de um Stuart Gordon no ápice, de um Brian Yuzna climático, de um Loyd Kaufman com orçamento!
Esse segmento do filme é tão radicalmente maravilhoso que quase justifica – quase – o longo tédio que levou a ele. A segunda parte desse double feature que a Fargeat lançou disfarçado de um filme só é gloriosa; tivesse começado no MMA de “Matriz X Cópia”, seria muito provavelmente um fracasso comercial, mas também seria um filme quatro estrelas. Ou, se pegassem os dois primeiros atos de MaXXXine [2024] de Ti West (que descarrilha quase completamente no terceiro ato) e, DE ALGUMA FORMA, emendassem no terceiro ato de A Substância, teríamos o melhor retorno de 2024 aos asquerosos anos 1980!
Em A Substância, o horror corporal não é cronenberguiano; ele é muito mais estilo, extravagância, curtição semiótica do que substância. E tudo bem! A questão do “estilo sobre substância”, muitas vezes utilizado como crítica negativa de uma obra cinematográfica, é que, na verdade, a gente está diante de um sintoma muito mais positivo do que negativo. Se um diretor tem estilo, ele já venceu mais do que metade da batalha, porque ele tem uma voz, uma compressão visual da realidade; e Carolie Fargeat, com seu uso radical de cores e composição, sua ousadia narrativa (ao menos no terceiro ato) e seu senso de exagero e excesso semiótico em geral, certamente comprova que é detentora de um poderoso estilo – alguma coisa como uma intersecção imperfeita entre a “estética pela estética” de dispenser vintage de balas de menta de um Wes Anderson e o arrojo visual deliberado de um Kubrick em A Laranja Mecânica [1971].
Agora é esperar que lhe caia na mão ou que ela mesma produza um roteiro realmente inteligente e voraz – ou que lhe permitam, num próximo filme, ousar desde o primeiro minuto. E se ela puder trazer novamente uma Demi Moore desenfreada, um Dennis Quaid despudorado e sabe-se-lá mais quais tantos veteranos geniais que ainda gritam contra a massa disforme dos Tom Hollands e Zendayas desse novo século, melhor ainda!
Joaquim Dantas e Juscelino Neco são responsáveis pelo Selvagem Podcast, disponível em todos os agregadores. Juscelino é autor de Em Perfeito Estado, Reanimator, Zumbis para Colorir, Matadouro de Unicórnios e Parafusos, Zumbis e Monstros do Espaço.
Títulos relacionados: