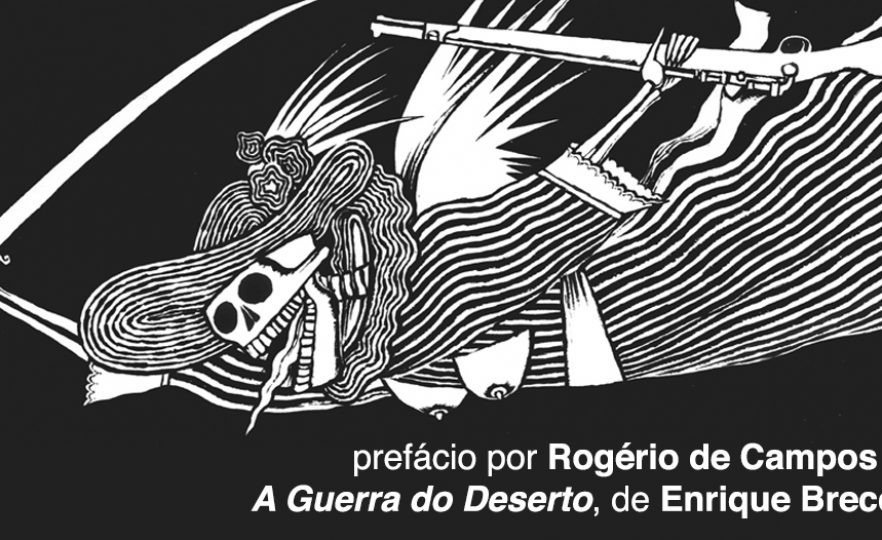Preto no Branco
Siga-nos
ÚLTIMOS POSTS

Como os japoneses salvaram os quadrinhos ocidentais
Ilustração: Bernie Krigstein, em O Perfeito Estranho (p. 135)
“Ouço, com frequência, pessoas dizerem que não gostam de quadrinhos. Mas a verdade é mais simples: elas não entendem os desenhos. Não gostam de desenhos em geral. Não gostam de nenhum desenho e por isso não há como gostarem de histórias em quadrinhos. Não têm nenhuma emoção com aquilo. Para gostar de histórias em quadrinhos, é preciso gostar de desenhos”. O escritor Pierre Christin não desenha, mas gosta de desenho e fez roteiros para alguns dos principais nomes dos quadrinhos franceses, de Jacques Tardi a Enki Bilal, de Annie Goetzinger a Boucq. É também cocriador da série Válerian. Esse trecho que citei está no final de um texto que Christin escreveu em 1989[1] e me lembro dele de tempos em tempos porque me parece tocar em várias questões fundamentais a respeito da recepção crítica dos quadrinhos. Certos desprezos e também certa condescendência. O desenho como algo menor, quadrinho sendo mesmo diminutivo.
Volto a esse trecho também em momentos em que tento me entender. Entender essa relação até erótica que tenho com gravuras e desenhos. Entender o meu prazer de desenhar. Entender porque me meto em discussões às vezes cansativas a respeito do que se faz com os desenhos. A seriedade até um pouco ridícula, admito, com que encaro as histórias em quadrinhos.
Gosto de desenho ao ponto de frequentemente gostar mais dos rascunhos dos artistas do que das telas prontas. Gosto muito das pinturas de Ingres, mas amo seus desenhos. Gosto do traço em preto e branco. Gosto do nanquim, gosto do lápis. Me irrita aquela colorização de quadrinhos por computador que foi moda nos anos 90, com aqueles degradês. E acho sinceramente que a maior parte dos gibis comerciais norte-americanos ficariam melhores em preto e branco. As edições dos super-heróis pela Ebal nos anos 60 e 70, em preto e branco e formato maior, são para mim as melhores do mundo, em todos os tempos. De Will Eisner e John Romita a Brian Bolland e David Mazzucchelli, são vários colorizados que ficam muito melhor em preto e branco.


(à esquerda: o Demolidor, por John Romita; à direita: Spirit, por Will Eisner
Certos fãs louvam as edições originais de certos gibis, ignorando que na maior parte das vezes os desenhistas daqueles quadrinhos não tinham qualquer controle sobre a arte final e colorização, que era feita por outros funcionários das editoras. Richard Outcault, criador do Yellow Kid, dizia nem saber quem foi que teve a ideia de pintar de amarelo o camisolão do menino.
Quando comprei os direitos de Isaac o Pirata, de Christopher Blain, para a editora Conrad, coloquei como condição que a minha edição seria em preto e branco. Não só a editora francesa (Dargaud) aceitou, como uma amiga que trabalha lá me contou depois que Blain ficou entusiasmado com a nossa edição. Disse que ele andava pelos corredores da editora anunciando que era assim que queria o livro desde o início. Teria sido por insistência dele que a edição definitiva da série acabou saindo em preto e branco. Foi uma vitória de Blain, porque ainda resiste na França a tradição dos álbuns de quadrinhos serem coloridos. Agora as coisas melhoraram muito, mas durante muito tempo foi como em Hollywood, onde filmes em preto e branco são em geral considerados coisa de “alternativos”, ou seja, merda radioativa. Vários cineastas já lamentaram publicamente as dificuldades que têm para convencer os estúdios a permitirem que filmem em preto e branco. Conta-se que os irmãos Coen só conseguiram fazer O homem que não estava lá (2001) em monochrome porque a produtora errou no contrato. E o erro foi depois corrigido para nunca mais se repetir. “A vida é em cores, mas o preto e branco é mais realista”, a frase de Samuel Fuller no filme O Estado das Coisas de Wim Wenders (1982) é quase um manifesto.


(O Incal, de Moebius, em versão colorizada e P/B)
Mas, no caso do cinema, as tantas décadas de cores (também na TV) degradaram parte da sensibilidade do grande público para usufruir naturalmente filmes em P&B. Além do mais, o fato de um filme ser feito em P&B não o torna mais barato que um colorido. Diversas vezes, o uso do P&B é apenas um esnobismo. Neste sentido, a situação do cinema é muito diferente da dos quadrinhos.
Se no início deste século vacilei antes de decidir publicar o Dragon Ball foi por temor de que jovens adolescentes acostumados com as cores da Disney, do Maurício de Souza e dos super-heróis pudessem rejeitar um gibi em P&B. Minha dúvida era relativa a um público específico, o infanto-juvenil. Mas eu tinha, claro, conhecimento do histórico recente de grandes sucessos em forma de gibis em P&B para quadrinhos adultos: A Espada Selvagem de Conan, Chiclete com Banana e Tex estiveram por muito tempo nos primeiros lugares das listas de mais vendidos. Robert Crumb, o mais importante quadrinista do Ocidente nos últimos 50 anos, raras vezes fez quadrinhos coloridos. E Maus, de Art Spiegelman, seguindo o modelo de Gen Pés Descalços, de Keiji Nakasawa, era um sucesso de público e crítica.
Minhas preocupações quanto à ausência de cores no gibi Dragon Ball se revelaram uma bobagem: o mangá foi um sucesso estrondoso. Imediatamente passou a vender mais que todos os gibis de super-heróis juntos. A mesma coisa aconteceu no resto do Ocidente, com a exceção dos Estados Unidos, onde a invasão japonesa aconteceu com o mangá da Saylor Moon. A hostilidade dos nerds conservadores fãs dos comic books norte-americanos foi imensa. Criticou-se muito os mangás com argumentos que tinham sido usados antes contra os gibis em geral: eram violentos, mal desenhados, feitos para vender brinquedos etc.
Mas minha opinião é que os mangás salvaram os quadrinhos ocidentais. Foram elemento fundamental na química que gerou a explosão criativa dos quadrinhos das últimas décadas. E o fato de serem em preto e branco tem bastante relação com este fato.
Para entender isso, é preciso saber algumas coisas básicas da indústria editorial. Como acontece em geral com produtos industriais, quanto maior a tiragem de um livro ou revista, mais barato fica o custo de cada exemplar. Por isso, um best-seller pode ser vendido por menos de 10 reais nas gôndolas de supermercado, enquanto que um livro acadêmico com formato similar e o mesmo número de páginas custa 50 reais ou mais na livraria. Não é porque a editora de livros acadêmicos é mais gananciosa que a outra, que publica best-sellers.

No caso dos quadrinhos havia um agravante: a necessidade da cor. Na impressão colorida a tiragem é uma questão ainda mais importante. Se pequena, o custo fica tão alto que torna a publicação inviável comercialmente. Se a tiragem é bem grande (passa dos 10 mil exemplares), a impressão pode até ser feita em rotativa, que compromete um tanto a qualidade, mas faz o custo unitário despencar. Enfim, a cor costuma ser uma barreira para editoras pequenas. E como as grandes editoras não gostam de arriscar, o que acontecia nas livrarias ocidentais é que os livros de histórias em quadrinhos eram aqueles de personagens famosos (quando um gibi ou álbum tem poucas páginas, não há tanto espaço para apresentar os personagens, por isso é bem útil ter personagens recorrentes e outros clichês conhecidos) ou experimentos raros que ficavam perdidos nas prateleiras de livros de arte. A França era a exceção: lá, graças às políticas governamentais de incentivo ao mercado editorial e à popularidade de revistas de quadrinhos como a Pilote, (À Suivre) e Metal Hurlant havia a tradição de um grande espaço nas livrarias para os álbuns de quadrinhos. Em geral coloridos, capa dura, com 48 páginas (os juvenis) e 60 páginas (os adultos). Mas depois de atingirem picos no início da década de 80, as vendas das revistas de quadrinhos despencaram. Poucas delas sobreviveram para comemorar a chegada da década de 90. Como eram as revistas que lançavam os novos autores e alimentavam o culto à Moebius, Tardi e tal, o cenário ficou preocupante. Então, em 1993, a editora Glenat lançou Dragon Ball. Primeiro nas bancas, mas logo na sequência, nas livrarias. Foi a série de livros de quadrinhos mais vendida da França por anos e abriu o caminho para os outros mangás. Mas, mais que isso, abriu as portas das livrarias para os quadrinhos em preto e branco. E isso aconteceu em todo o Ocidente. Nos Estados Unidos, por exemplo, como as comic shops são em sua maioria dominadas por nerds fãs de super-heróis, as editoras de mangás concentraram seu esforço nas livrarias mainstream. E o resultado não poderia ter sido melhor: em pouco tempo, os mangás, e com eles os quadrinhos em geral, eram o destaque nas entradas das livrarias.
Além do mais, os mangás também por serem em preto e branco e, portanto, de impressão mais barata, tinham criado a tradição de terem muitas páginas. Com mais páginas, os livros de quadrinhos puderam se livrar da quase obrigatoriedade dos personagens recorrentes, tornarem-se mais autorais e terem histórias mais complexas.
Enfim, tenho a sorte de ser editor e acompanhar os processos de criação de alguns dos quadrinistas mais talentosos do planeta. Ver a vida surgindo do lápis. Diversos desses quadrinistas são também mestres da cor. E o resultado pronto, colorido, é sempre uma maravilha. Mas algumas vezes eu cheguei a sugerir aos desenhistas: deixa assim, no lápis, já está muito bonito.
[1] http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/revues_document_joint/PUBLICATION_3247.pdf
Livros relacionados