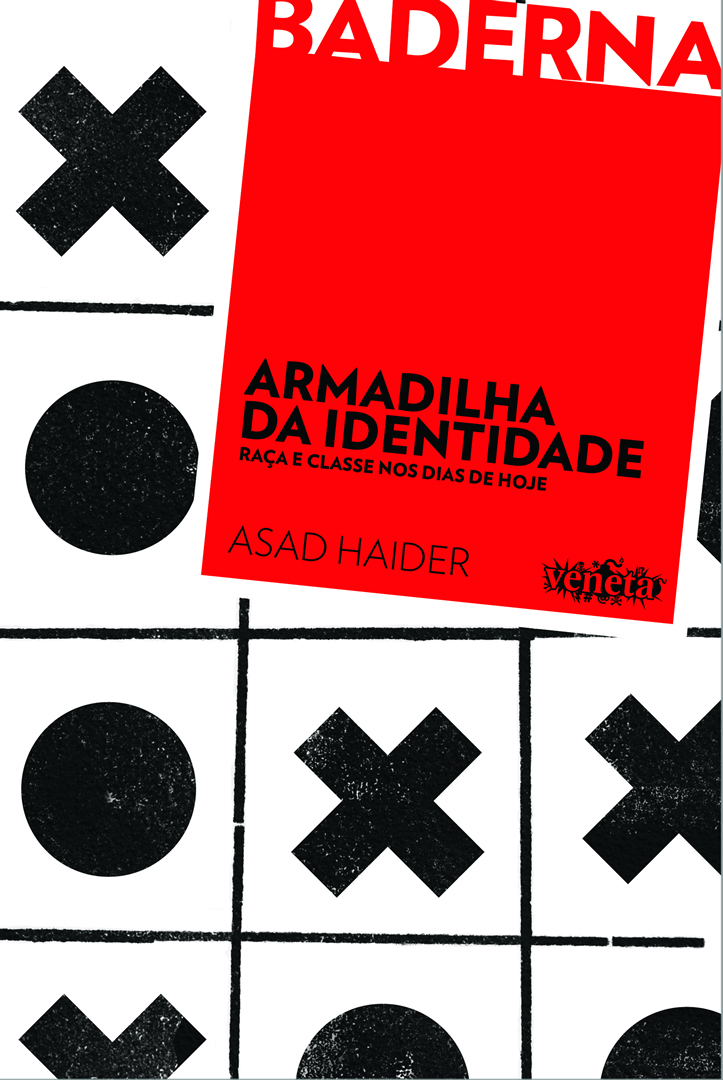Siga-nos
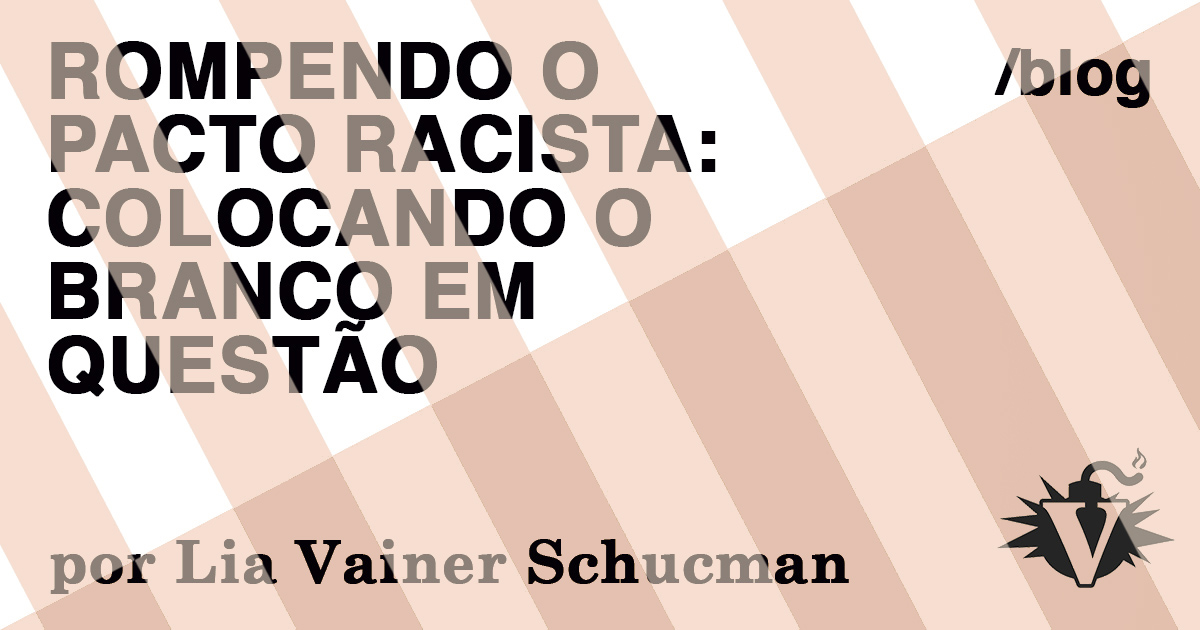
por Lia Vainer Schucman*
Trecho da introdução de “Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo”
Apresentar os motivos pelos quais escolhi escrever um livro¹ com este assunto é, para além de um ato de apresentação aos leitores, um ato político, pois será necessário falar ao mesmo tempo sobre o processo de como me identifiquei com aqueles que são vítimas do racismo bem como com aqueles que são protagonistas de atitudes, discursos e subjetividade racista.
A primeira proposição – de identificação com as vítimas do racismo – é muito mais simples de tornar consciente, pois o argumento racional, de que sou uma psicóloga social que se preocupa com a luta contra a opressão e subalternização das populações oprimidas por uma sociedade que privilegia uns em detrimentos de outros, basta para colocar-me dentro daqueles que se engajam na luta antirracista e por uma sociedade mais igualitária. No entanto, hoje, para se realizar uma pesquisa dentro da psicologia social crítica é condição sine qua non que o investigador saiba o lugar social e subjetivo de onde age, fala, observa e escreve. Assim, sendo eu mulher, branca, paulista de classe média e descendente de imigrantes judeus, é deste lugar que eu falo.
Portanto, a questão racial não é algo que está longe de mim. Deslocando-se do lugar do branco e do negro no Brasil, fui criada em um ambiente no qual os efeitos do racismo antijudaico e do nazismo europeu deixaram marcas e feridas capazes de mobilizar afetos nas duas gerações posteriores. Assim, fui socializada em um lar onde qualquer forma de preconceito e discriminação era totalmente intolerável e automaticamente associada aos horrores passados pela minha família na Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, os temas da discriminação, da raça e do racismo sempre fizeram parte das minhas preocupações.

Contudo, o racismo particular do brasileiro é a ideologia do branqueamento marcado por uma sociedade hierárquica de desigualdades sociais e racistas no que diz respeito aos negros e aos índios. Sendo assim, o judeu brasileiro também faz parte da sociedade branca e, portanto, na ideologia racista típica do Brasil, contribui com o “branqueamento” da sociedade. Dessa forma, fazer parte desse grupo me deixou em um local de duplo pertencimento: por um lado, pertenço a uma família que já foi oprimida pelo racismo em outro contexto histórico e lugar do globo, e, ao mesmo tempo, faço parte do grupo que obtém privilégios pela pertença racial.
Criada nessa condição e em uma família de tradição democrática de esquerda, obviamente minha constituição como branca não foi daquela que se opunha aos negros como os “outros” de que se tem ódio ou então como os “outros” de que se tem medo. Portanto, o racismo em que fui criada não se dava pelo ódio aos negros, mas também racista foi a forma como os brancos de minhas relações sociais e eu representávamos os “outros” negros: com pena, com dó, com ausência. Quer dizer: nosso racismo nunca impediu que convivêssemos com os negros ou que tivéssemos relações de amizades e/ou amorosas com eles. No entanto, muitas vezes essas eram relações em que os brancos se sentiam quase como que fazendo “caridade” ou “favor” ao se relacionarem com os negros, como se com a nossa branquitude fizéssemos um favor de agregar valor a eles, porque, afinal, estávamos permitindo aos negros compartilhar o mundo de “superioridade” branca. Ou seja, mesmo tendo crescido em um ambiente onde a luta contra a opressão, discriminação e desigualdades era a pauta de discussões na família, na escola e nas relações de amizade, fui socializada e constituída como branca com um sentimento de “superioridade” racial tão maléfico quanto o racismo daqueles que acham que os negros são inferiores biológica e moralmente.
Assim, quando em uma atitude de autorreflexão percebi que, mesmo tendo um círculo de relação social com diversos negros, e com um ideal racional antirracista, eu, em alguns aspectos, continuava sendo protagonista do racismo. Nesse momento tive um choque emocional que tornou a luta antirracista minha agenda diária. Assim também fui atrás de referências epistemológicas que explicassem o porquê e de que forma eu havia subjetivado o racismo em mim tão profundamente.
Perguntar quem é o branco e como a ideia de raça, bem como o racismo, opera na constituição dessa identidade é o propósito deste trabalho. Acredito que, dentro da psicologia social, para além de todas as lutas contra a desigualdade racial em relação ao acesso a recursos materiais, uma das contribuições que um branco pode fazer pela e para a luta antirracista é denunciar os privilégios simbólicos e materiais que estão postos nessa identidade.
Assim, quando digo que esta apresentação é também um ato político, a intenção é dizer que me expor como também pertencente ao grupo opressor e denunciar o racismo que já foi parte de minha identidade e contra o qual hoje luto conscientemente para desconstruir é romper o silêncio chamado pela psicóloga Maria Aparecida Bento de “pacto narcísico” entre brancos, que necessariamente se estrutura na negação do racismo e desresponsabilização pela sua manutenção.
1 Fruto de minha tese de doutorado defendida em 2012 no Programa de Psicologia Social da Universidade de São Paulo.
*Lia Vainer Schucman é doutora em Psicologia Social pela USP e professora da Universidade Federal de Santa Catarina. É autora de Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo e também de Famílias inter-raciais: tensões entre cor e amor (Edufba, 2018)
PRODUTOS RELACIONADOS